 |
Caleidoscópio
Genealogia e Poder
Curso do Collège de France, 7 de janeiro de 1976 - publicado em Microfísica do Poder, Editora Graal, 1979.
 Este ano eu gostaria de concluir uma série de pesquisas que fizemos os últimos quatro ou cinco anos e que hoje eu dou conta que acumularam inconvenientes. Trata-se de pesquisas próximas umas e outras, mas que não chegaram a formar um conjunto coerente, a ter continuidade e que nem mesmo terminaram. Pesquisas dispersas e ao mesmo tempo bastante repetitivas, que seguiam os mesmos caminhos, recaíam nos mesmos temas, retomavam os mesmos conceitos etc. Este ano eu gostaria de concluir uma série de pesquisas que fizemos os últimos quatro ou cinco anos e que hoje eu dou conta que acumularam inconvenientes. Trata-se de pesquisas próximas umas e outras, mas que não chegaram a formar um conjunto coerente, a ter continuidade e que nem mesmo terminaram. Pesquisas dispersas e ao mesmo tempo bastante repetitivas, que seguiam os mesmos caminhos, recaíam nos mesmos temas, retomavam os mesmos conceitos etc.
O que fiz, vocês se lembram: pequenas exposições sobre a história do procedimento penal; alguns capítulos sobre a evolução e a institucionalização da psiquiatria no século XIX; considerações sobre a sofística, sobre a moeda grega ou sobre a Inquisição na Idade Média; o esboço de uma história da sexualidade, através das práticas da confissão do século XVII ou do controle da sexualidade infantil nos séculos XVIII – XIX; a demarcação da gênese de um saber sobre a anomalia, com todas as técnicas que a acompanham. Estas pesquisas se arrastam, não avançam, se repetem e não se articulam; em uma palavra, não chegam a nenhum resultado.
Poderia dizer que, afinal de contas, se tratava de indicações, pouco importando aonde conduziam ou mesmo se conduziam a algum lugar,a alguma direção pré-determinada. Eram como linhas pontilhadas; cabe a vocês continuá-las ou modifica-las, a mim eventualmente dar-lhes prosseguimento ou uma outra configuração. Veremos o que fazer com esses fragmentos. Eu agia como um boto que salta na superfície da água só deixando um vestígio provisório de espuma e que deixa que acreditem, faz acreditar, quer acreditar ou acredita efetivamente que lá embaixo, onde não é recebido nem controlado por ninguém, segue uma trajetória profunda, coerente e refletida.
Que o trabalho que eu apresentei tenha tido este aspecto, ao mesmo tempo fragmentário, repetitivo e descontínuo, isto corresponde a algo que se poderia chamar de preguiça febril. Preguiça que afeta caracterialmente os amantes da biblioteca, de documentos, referências, dos escritos empoeirados e dos textos nunca lidos, dos livros que, logo que publicados, são guardados e dormem em prateleiras de onde só são tirados séculos depois; pesquisa que conviria muito bem à inércia profunda dos que professam um saber inútil, uma espécie de saber suntuosa, uma riqueza de novos-ricos cujos signos exteriores estão localizados nas notas de pé de página; que conviria a todos aqueles que se sentem solidários com uma das mais antigas ou mais característica sociedades secretas do Ocidente, estranhamente indestrutível, desconhecida da Antiguidade e que se formou no início do Cristianismo, na época dos primeiros conventos, em meio às invasões, aos incêndios, às florestas: a grande, terna e calorosa maçonaria da erudição inútil.
Mas não foi simplesmente o gosto por essa maçonaria que me levou a fazer o que fiz. Parece-me que o trabalho que fizemos – que se produziu da maneira empírica a aleatória entre nó – poderia ser justificado dizendo que convinha muito bem a um período limitado, aos últimos dez, vinte ou no máximo vinte anos.
Neste período, podemos notar dois fenômenos que, se não foram realmente importantes, foram ao menos bastante interessantes. Por um lado, ele se caracterizou pelo que se poderia chamar de eficácia das ofensivas dispersas e descontínuas. Penso em várias coisas: por exemplo, na estranha eficácia, quando se tratou de entravar o funcionamento da instituição psiquiátrica, dos discursos bastante localizados da anti-psiquiatria, discursos que não têm uma sistematização global, mesmo que tenha tido referências, como a inicial à análise existencial ou como a atual ao marxismo, à teoria de Reich; ou na estranha eficácia dos ataques contra a moral ou contra a hierarquia tradicional, que só se referiam vaga e longinquamente a Reich ou a Marcuse; na eficácia dos ataques contra o aparelho judiciário e penal, alguns dos quais se referiam longinquamente à noção geral e duvidosa de justiça de classe, enquanto outros se articulavam apenas um pouco mais precisamente a uma temática anarquista; na eficácia de algo – nem ouso dizer livro – como o Anti-Édipo, que praticamente só se referia à sua própria e prodigiosa inventividade teórica, livro, ou melhor, coisa ou acontecimento, que chegou a enrouquecer, penetrando na prática mais cotidiana, o murmúrio durante muito tempo não interrompido que flui no divã para a poltrona.
Portanto, assistimos a dez ou quinze anos a uma imensa e proliferante criticabilidade das coisas, das instituições, das práticas, dos discursos; uma espécie de friabilidade geral dos solos, mesmo doso mais familiares, dos mais sólidos, dos mais próximos de nós, de nosso corpo, de nossos gestos cotidianos. Mas junto com esta friabilidade e esta surpreendente eficácia das críticas descontínuas, particulares e locais, e mesmo devido a elas, se descobre nos fatos algo que de início não era previsto, aquilo que se poderia chamar de efeito inibidor próprio às teorias totalitárias, globais. O que não quer dizer que estas teorias globais forneçam constantemente instrumentos utilizáveis localmente: um marxismo e a psicánalise estão aí para prová-lo. Mas creio que elas só forneceram estes instrumentos à condição de que a unidade teórica do discurso fosse como que suspensa ou, em todo caso, recortada, despedaçada, deslocada, invertida, caricaturada, teatralizada. Em todo caso, toda volta, nos próprios termos, à totalidade conduziu de fato a um efeito de refreamento.
Portanto, o primeiro ponto, a primeira característica do que se passou nesses anos é o caráter local da crítica; o que não quer dizer empirismo obtuso, ingênuo ou simplório, nem ecletismo débil, oportunismo, permeabilidade a qualquer empreendimento teórico; o que também não quer dizer ascetismo voluntário que se reduziria a maior pobreza teórica possível. O caráter essencialmente local da crítica indica na realidade algo que seria uma espécie de produção teórica, autônoma, não centralizada, isto é, que não tem necessidade, para estabelecer sua validade, da concordância de um sistema comum.
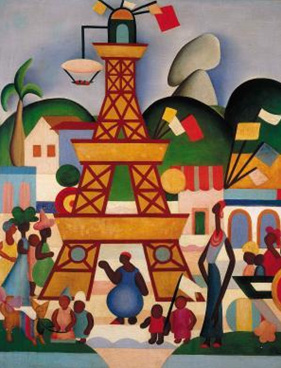
Chegamos assim à segunda característica do que acontece há algum tempo: esta crítica local se efetuou através do que se poderia chamar de retorno do saber. O que quero dizer com o retorno do saber é o seguinte: é verdade que com estes últimos anos encontramos freqüentemente, ao menos ao nível superficial, toda uma temática do tipo: não mais o saber mas a vida, não mais o conhecimento mas o real, não o livro mas a trip, etc. Parece me que sob essa temática, através dela ou nela mesma, o que se produziu é o que se poderia chamar insurreição dos saberes dominados.
Por saber dominado, entendo duas coisas: por um lado, os conteúdos históricos que foram sepultados, mascarados em coerências funcionais ou em sistematizações formais. Concretamente: não foi uma semiologia na vida asilar, nem uma sociologia da delinqüência, mas simplesmente o aparecimento de conteúdos históricos que permitiu fazer a crítica efetiva tanto no manicômio quanto na prisão; e isso simplesmente porque só os conteúdos históricos podem permitir encontrar a clivagem dos confrontos, das lutas que as organizações funcionais ou sistemáticas têm por objeto mascarar. Portanto, os saberes dominados são esses blocos de saber histórico que estavam presentes e mascarados no interior dos conjuntos funcionais e sistemáticos que a crítica pode fazer reaparecer, evidentemente através do instrumento de erudição.
Em segundo lugar, por saber dominado, se deve entender outra coisa e, em certo sentido, uma coisa inteiramente diferente: uma série de saberes que tinham sido desqualificados como não competentes ou insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível requerido de conhecimento de cientificidade. Foi um reaparecimento desses saberes que estão embaixo – saberes não qualificados, e mesmo desqualificados, do psiquiatrizado, do doente, do enfermeiro, do médico paralelo e marginal em relação a saber médico do delinqüente, etc., que chamarei de saber das pessoas e que não é de forma alguma o saber comum, um bom senso mas, ao contrário, um saber particular, regional, local, um saber diferencial incapaz de unanimidade e que só deve sua força à dimensão que o opõe a todos aqueles que o circundam - que realizou a crítica.
Poder-se-ia dizer que existe um estranho paradoxo em querer agrupar em uma mesma categoria de saber dominado os conteúdos do conhecimento histórico, meticuloso, erudito, exato e estes saberes locais, singulares, estes saberes das pessoas sem senso comum e que foram deixados de lado, quando não foram efetivamente e explicitamente subordinados. Parece-me que, de fato, foi esse acoplamento entre o saber sem vida de erudição e o saber desqualificado pela hierarquia dos conhecimentos e das ciências que deu à crítica desses últimos nos sua força essencial.
Em um caso como no outro, no saber da erudição como naquele desqualificado, nestas duas formas de saber sepultado ou dominado, se tratava na realidade do saber histórico da luta. Nos domínios especializados da erudição como nos saberes desqualificados das pessoas jazia a memória dos combates, exatamente aquela que até então tinha sido subordinada.
Delineou-se assim o que se poderia chamar uma genealogia, ou melhor, pesquisas genealógicas múltiplas, ao mesmo tempo redescoberta exata das lutas e memória bruta dos combates. E esta genealogia, como acoplamento do saber erudito e do saber das pessoas, só foi possível e só se pôde tentar realizá-la à condição de que fosse eliminada a tirania dos discursos englobantes com suas hierarquias e com os privilégios da vanguarda teórica.
Chamemos provisoriamente genealogia o acoplamento do conhecimento com as memórias locais, que permite a constituição de um saber histórico das lutas e a utilização deste saber nas táticas atuais. Nesta atividade, que se pode chamar genealógica, não se trata, de modo algum, de opor a unidade abstrata da teoria à multiplicidade concreta dos fatos e de desclassificar o especulativo para lhe opor, em forma de cientificismo, ou rigor de um conhecimento sistemático. Não é um empirismo nem um positivismo, no sentido habitual do termo, que permeiam o projeto genealógico. Trata-se de ativar saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados, contra a estância teórica unitária que pretenderia depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento verdadeiro, em nome dos direitos de uma ciência detida por alguns. As genealogias não são portanto retornos positivistas a uma forma de ciência mais atenta ou mais exata, mas anti-ciências. Não que reivindiquem o direito lírico à ignorância ao não-saber; não que se trate da recusa de saber ou de ativar ou ressaltar os prestígios de uma experiência imediata não ainda captada pelo saber. Trata-se da insurreição dos saberes não tanto contra os conteúdos, os métodos e os conceitos de uma ciência, mas de uma insurreição dos saberes antes de tudo contra os efeitos de poder centralizadores que estão ligados à instituição e ao funcionamento de um discurso científico organizado no interior de uma sociedade como a nossa. Pouco importa que esta institucionalização do discurso científico se realize em uma universidade ou, de modo mais geral, em um aparelho político com todas as suas aferências, como no caso do marxismo; são os efeitos de poder próprios a um discurso considerado como científico que a genealogia deve combater.
De modo mais preciso, há alguns anos, provavelmente há mais de um século, têm sido numerosos os que se perguntam se o marxismo é ou não uma ciência. Mesma questão que tem sido colocada à psicanálise ou à semiologia dos textos literários. A esta questão – é ou não uma ciência? – as genealogias ou os genealogistas responderiam: o que lhe reprovamos é fazer do marxismo, da psicanálise ou de qualquer outra coisa uma ciência. Se temos uma objeção a fazer ao marxismo é dele poder efetivamente uma ciência. Antes mesmo de saber em que medida algo como o marxismo ou a psicanálise é análogo a uma prática científica em seu funcionamento cotidiano nas regras de construção, nos conceitos utilizados, antes mesmo de colocar a questão da analogia formal e estrutural de um discurso marxista ou psicanalítico com o discurso científico, não se deve antes interrogar sobre a ambição de poder que a pretensão de ser uma ciência traz consigo ? As questões a colocar são: que tipo de saber vocês querem desqualificar no momento em que vocês dizem “ é uma ciência” ? Que sujeito falante, que sujeito de experiência ou de saber vocês querem “ menorizar” quando dizem: “ Eu que formulo esse discurso, enuncio um discurso científico e sou um cientista “ ? Qual vanguarda teórico-política vocês querem entronizar para separá-la de todas as numerosas, circulantes e descontínuas formas de saber ? Quando vejo seus esforços para estabelecer que o marxismo é uma ciência, não os vejo na verdade demonstrando que o marxismo tem uma estrutura racional e que portanto sua proposições relevam de procedimentos de verificação. Vejo-os atribuindo ao discurso marxista e àqueles que o detêm efeitos de poder que o Ocidente, a partir da Idade Média, atribuiu a ciência e reservou àqueles que formulam um discurso científico.
A genealogia seria portanto, com relação ao projeto de uma inscrição dos saberes da hierarquia de poderes próprios à ciência, um empreendimento para liberar da sujeição os saberes históricos, isto é, torna-los capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e científico. A reativação dos saberes locais – menores, diria talvez Deleuze – contra a hierarquização científica do conhecimento e seus efeitos intrínsecos de poder, eis o projeto destas genealogias desordenadas e fragmentárias. Enquanto a arqueologia é um método próprio à análise da discursividade local. A genealogia é a tática que, a partir da discursividade local assim descrita, ativa os saberes libertos da sujeição que emergem desta discursividade. Isto para situar o projeto geral. Todos esses fragmentos de pesquisa, todos estes discursos, poderiam ser considerados como elementos destas genealogias, que não fui o único a fazer. Questão: por que então não continuar com uma teoria da descontinuidade, tão graciosa e tão pouco verificável, por que não analisar um novo problema da psiquiatria ou da teoria da sexualidade, etc.? É verdade que poderemos continuar – e até certo ponto procurarei continuar – se não fosse um certo número de mudanças na conjuntura. Em relação à situação que conhecemos nestes últimos quinze anos, as coisas provavelmente mudariam; a batalha talvez não seja mais a mesma. Existiria ainda a mesma relação de força que permitiria fazer permanecer, fora de qualquer relação de sujeição, estes saberes desenterrados ? Que força eles têm ? E, a partir do momento em que se extraem fragmentos da genealogia e se colocam em circulação estes elementos de saber que se procurou desenterrar, não correm eles o risco de serem recodificados, recolonizados pelo discurso unitário que, depois de tê-los desqualificados e ignorados quando apareceram, estão agora prontos a anexá-los ao seu próprio discurso e aos seus efeitos de saber e de poder? Se queremos proteger estes fragmentos libertos, não corremos o risco de construir um discurso unitário, ao qual nos convidam, como para um armadilha, aqueles que nos dizem: ”tudo isso está certo, mas em que direção vai, para formar que unidade?”. A tentação seria de dizer: continuemos, acumulemos, afinal de contas ainda não chegou o momento em que corremos o risco de ser colonizados. Poderíamos lançar o desafio: “Tentem colonizar-nos!” Poderíamos dizer: “Desde o momento em que a anti-psiquiatria ou a genealogia das instituições psiquiátricas tiveram início, há uns quinze anos atrás, algum marxista, algum psicanalista procurou refazê-las em seus próprios termos e mostrar que eram falsas, mal elaboradas, mal articuladas, mal fundadas!” De fato, esses fragmentos de genealogias que fizemos permanecem cercados por um silêncio prudente. O que se lhes opõe, no máximo, são proposições como a de um deputado do Partido Comunista Francês: “Tudo está certo, mas não há dúvida de que a psiquiatria soviética é a primeira do mundo”. Ele tem razão. A psiquiatria soviética é a primeira do mundo. E é exatamente isto que nós reprovamos.
O silêncio, ou melhor, a prudência com que as teorias unitárias cercam a genealogia dos saberes seria talvez uma razão para continuar. Poderíamos multiplicar os fragmentos genealógicos. Mas seria otimista, tratando-se de uma batalha – batalha dos saberes contra os efeitos de poder do discurso científico – tomar o silêncio do adversário como a prova de que lhe metemos medo. O silêncio do adversário – este é um princípio metodológico, um princípio tático que se deve sempre ter em mente – talvez seja também o sinal de que nós de modo algum lhe metemos medo. Em todo caso, deveríamos agir como se não lhe metêssemos medo. Trata-se portanto não de dar um fundamento teórico contínuo e sólido a todas as genealogias dispersas, nem de impor um espécie de coroamento teórico que as unificaria, mas de precisar ou evidenciar o problema que está em jogo nesta oposição, nesta luta, nesta insurreição dos saberes contra a instituição e os efeitos de poder e de saber do discurso científico.
A questão de todas estas genealogias é: o que é o poder, poder cuja irrupção, força, dimensão e absurdo apareceram concretamente nestes últimos quarenta anos com o desmoronamento do nazismo e recuo do estalinismo? O que é o poder, ou melhor – pois a questão o que é poder seria uma questão teórica que coroaria o conjunto, o que eu não quero – quais são, em seus mecanismos, em seus efeitos, em suas relações, os diversos dispositivo de poder que se exercem a níveis diferentes na sociedade, em domínios e com extensões tão variados? Creio que a questão poderia ser formulada assim: a análise do poder ou dos poderes pode ser, de uma maneira ou de outra, deduzida da economia?
Eis por que coloco esse problema e o que quero dizer com isso. Não quero abolir as inúmeras e gigantescas diferenças mas, apesar e através destas diferenças, me perece que existe um ponto em comum entre a concepção jurídica ou liberal do poder político – tal como encontramos nos filósofos do século XVIII – e a concepção marxista, ou uma certa concepção corrente que passa como sendo a concepção marxista. Este ponto em comum é o que chamarei o economicismo na teoria do poder.
Com isto quero dizer o seguinte: no caso da teoria jurídica, clássica o poder é considerado como um direito de que se seria possuidor como de um bem e que se poderia, por conseguinte, transferir ou alienar, total ou parcialmente, por um ato jurídico ou um ato fundador de direito que seria da ordem da cessão ou do contrato. O poder é o poder concreto que cada indivíduo detém e que cederia, total ou parcialmente, para constituir o poder político, uma soberania política. Neste conjunto teórico a que me refiro a constituição do poder político que faz segundo modelo de uma operação jurídica que seria da ordem da troca contratual. Por conseguinte analogia manifesta, que percorre toda a teoria, entre o poder e os bens, o poder e a riqueza. No outro caso – concepção marxista geral do poder – nada disso é evidente: a concepção marxista trata de outra coisa, da funcionalidade econômica do poder. Funcionalidade econômica no sentido em que o poder teria essencialmente como papel manter relações de produção e reproduzir uma dominação de classe que o desenvolvimento e uma modalidade própria da apropriação das forças produtivas tornaram possível. O poder político teria nesse caso encontrado na economia sua razão de ser histórica. De modo geral, em um acaso temos um poder político que encontraria no procedimento na troca, na economia da circulação dos bens o seu modelo formal e, no outro, o poder político teria na economia sua razão de ser histórica, o princípio de sua forma concreta e do seu funcionamento atual.
O problema que se coloca nas pesquisas de que falo pode ser analisado da seguinte forma: em primeiro lugar, o poder está sempre em posição secundária em relação à economia, ele é sempre “finalizado” e “ funcionalizado” pela economia? Tem essencialmente como razão de ser e fim servir a economia, está destinado a fazê-la funcionar, a solidificar, manter e reproduzir as relações que são características desta economia e essenciais ao seu funcionamento? Em segundo lugar, o poder é modelado pela mercadoria, por algo que se possui, se adquire, se cede por contrato ou por força, que se aliena ou se recupera, que circula, que herda esta ou aquela região? Ou, ao contrário, os instrumentos necessários para analisá-lo são diversos, mesmo se efetivamente as relações de poder estão profundamente intrincadas nas e com as relações econômicas e sempre constituem com elas um feixe? Neste caso, a indissociabilidade da economia e do político não seria da ordem da subordinação funcional nem do isomorfismo formal, mas de uma outra ordem, que se deveria explicitar.
Para fazer uma análise não econômica do poder, de que instrumentos dispomos hoje? Creio que de muito poucos. Dispomos da afirmação que o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação, como também da afirmação que o poder não é principalmente manutenção e reprodução das relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força. Questão: se o poder se exerce, o que é esse exercício, em que se consiste, qual é a sua mecânica?
Uma primeira resposta que se encontra em várias análises atuais consiste em dizer: o poder é essencialmente repressivo. O poder é o que reprime a natureza, os indivíduos, os instintos, uma classe. Quando o discurso contemporâneo define repetidamente o poder como sendo o repressivo, isto é uma novidade. Hegel foi o primeiro a dize-lo; depois, Freud e Reich também o disseram. Em todo caso, ser órgão de repressão é no vocabulário atual o qualificativo quase onírico do poder. Não será, então, que a análise do poder deveria ser essencialmente uma análise dos mecanismos de repressão.
Uma segunda resposta: se o poder é em si próprio ativação e desdobramento de uma relação de força, em vez de analisá-lo em termos de cessão, contrato, alienação, ou em termos funcionais de reprodução das relações de produção, não deveríamos analisa-lo acima de tudo em termos de combate, de confronto e de guerra? Teríamos, portanto, frente à primeira hipótese, que afirma que o mecanismo do poder é fundamentalmente de tipo repressivo, uma segunda hipótese que afirma que o poder é guerra, guerra prolongada por outros meios.
Inverteríamos assim a posição de Clausewitz, afirmando que a política é a guerra prolongada por outros meios. O que significa três coisas: em primeiro lugar, que as relações de poder nas sociedades atuais têm essencialmente por base uma relação de força estabelecida, em um momento historicamente determinável, na guerra e pela guerra. E se é verdade que o poder político acaba a guerra, tenta impor a paz na sociedade civil, não é para suspender os efeitos da guerra ou neutralizar os desequilíbrios que se manifestaram na batalha final, mas para reinscrever perpetuamente estas relações de força, através de uma espécie de guerra silenciosa, nas instituições e nas desigualdades econômicas, na linguagem e até no corpo dos indivíduos. A política é a sanção e a reprodução do desequilíbrio das forças manifestadas na guerra. Em segundo lugar, quer dizer que, no interior desta “paz civil”, as lutas políticas, os confrontos a respeito do poder, com o poder e pelo poder, as modificações das relações de força em um sistema político, tudo isso deve ser interpretado apenas como continuações da guerra, como episódios, fragmentações, deslocamentos da própria guerra. Sempre se escreve a história da guerra, mesmo quando se escreve a história da paz e de suas instituições. Em terceiro lugar, que a decisão final só pode vir da guerra, de uma prova de força em que as armas deverão ser os juízes. O final da política seria a última batalha, isto é, só a última batalha suspenderia finalmente o exercício do poder como guerra prolongada.
A partir do momento em que tentamos escapar do esquema economicista para analisar o poder, nos encontramos imediatamente em presença de duas hipóteses: por um lado, os mecanismos do poder seria do tipo repressivo, idéia que chamarei por comodidade de hipótese de Reich: por outro lado, a base das relações de poder seria o confronto belicoso das forças, idéia que chamarei, também por comodidade de hipótese de Nietzsche.
Estas duas hipóteses não são inconciliáveis, elas parecem ser articular. Não seria a repressão a conseqüência política da guerra, assim como a opressão, na teoria clássica do direito político, era na ordem jurídica o abuso da soberania?
Poderíamos assim opor dois grandes sistemas de análise de poder: um seria o antigo sistema dos filósofos do século XVIII, que se articularia em torno do poder como direito originário que se cede, constitutivo da soberania, tendo o contrato como matriz do poder político. Poder que corre o risco, quando se excede, quando rompe os termos do contrato, de se tornar opressivo. Poder-contrato, para o qual a opressão seria a ultrapassagem de um limite. O outro sistema, ao contrário, tentaria analisar o poder político não mais segundo o esquema contrato-opressão, mas segundo o esquema guerra-repressão: neste sentido, a repressão não seria o mais o que era a opressão com respeito ao contrato, isto é, um abuso, mas, ao contrário, o simples efeito e simples continuação de uma relação de dominação. A repressão seria a prática, no interior desta pseudo-paz, de uma relação perpétua de força.
Portanto, estes são dois esquemas de análise do poder. O esquema contrato-opressão, que é o jurídico, e o esquema dominação-repressão ou guerra-repressão, em que a oposição pertinente não é entre legítimo-ilegítimo como no precedente, mas entre luta e submissão. São estas noções que analisarei nos próximos cursos.
Voltar para a página principal
|
 |